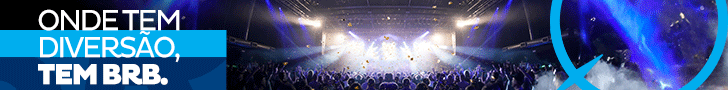Atrás apenas das 6.800 nos EUA, Brasil é segundo país com ais mortes por covid-19 em 2024, quatro anos após a eclosão da doença no país. Fatores são diversos, indo do novo comportamento do vírus às fake news.
Por Vinicius Mendes
Quando Cilene Brito começou a sentir febre, em paralelo a uma tosse seca e constante, no começo de janeiro, ela supôs que havia contraído dengue. Em Itanhaém, cidade a pouco mais de 100 quilômetros de São Paulo onde ela mora, a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti está em alta desde os últimos meses de 2023. À medida que os sintomas foram se agravando, porém, ela resolveu ir ao ambulatório do município vizinho, Peruíbe, próximo ao hotel em que ela dá expediente como recepcionista.
No dia seguinte veio o diagnóstico: covid-19. “Minha primeira reação foi surpresa com o resultado do teste, mas depois fiquei preocupada, porque provavelmente transmiti para mais gente enquanto estava trabalhando”, lamenta. Um dos contaminados imediatos foi seu filho, Lucas, de 17 anos, com quem divide a casa. Ambos foram orientados a ficar em reclusão por uma semana, tratando da febre com medicamentos antitérmicos.
No começo de 2024, duas pessoas morreram de covid-19 em Itanhaém, segundo a catalogação de casos mantida pelo Ministério da Saúde. Em Peruíbe, foi um óbito até agora. Os números, aparentemente baixos, escondem um dos grandes dilemas do auge da pandemia no Brasil: a subnotificação. “Hoje em dia é muito difícil saber o número real de casos, porque muita gente descobre a doença por meio de testes vendidos em farmácias”, explica Ralcyon Teixeira, diretor da Divisão Médica do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, um dos principais centros de infectologia da América Latina.
Mas não é só. Especialistas que permanecem debruçados sobre o SARS-CoV-2, o vírus da covid, concordam que, se os dados não são tão elevados quanto nos últimos anos, eles ainda preocupam por vários motivos. Embora a doença – que outrora pautava o noticiário, mobilizava as instâncias públicas, incentivava campanhas de prevenção, desenhava políticas públicas de saúde e repercutia no cotidiano do país – seja hoje um tema marginal em todos esses contextos.
“É uma doença altamente transmissível e que circula por mais tempo. Além disso, tem ciclos maiores do que a gripe, por exemplo – e só por isso já se espera que cause mais contaminações e mortes. Sem contar as variantes que seguem aparecendo, muitas delas ainda escapando da imunização existente”, relata à DW o microbiologista Átila Iamarino, que ficou famoso durante a pandemia explicando o comportamento do vírus em seu canal do YouTube.
O peso das comorbidades sobre os óbitos
Só em janeiro de 2024, 769 brasileiros morreram por causa da doença, uma média de 192 óbitos por semana epidemiológica (ou 27 por dia). Comparando com os dados compilados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil foi o segundo país com mais mortes por covid-19 no mundo no período, atrás apenas das 6.800 nos Estados Unidos e seguido da Itália, que teve 550 registros. Além disso, foram mais de 127 mil casos confirmados pelo país – ou cerca de 35 mil por semana.
“As vítimas hoje estão se concentrando, principalmente, em imunossuprimidos e em idosos”, revela o médico infectologista Julio Croda, pesquisador da Fiocruz, no Rio de Janeiro. “Daqui para a frente, é natural que a covid-19 permaneça como uma doença endêmica, se associando a mortes dependendo da cobertura vacinal da população e de possíveis novas variantes que forem surgindo.”
De fato, várias pesquisas recentes têm mostrado como no Brasil a taxa de mortalidade está ligada, sobretudo, a casos de covid-19 em que as vítimas já possuíam doenças de base, como complicações cardiovasculares ou diabetes, por exemplo. “É difícil uma morte acontecer puramente por causa da síndrome gripal, como víamos há alguns anos. Os óbitos acontecem mais porque a covid intensifica um caso clínico anterior”, corrobora Ralcyon Teixeira.
Para Iamarino, a vacinação tem um peso determinante para a conjuntura atual dos indicadores: de um lado, o calendário de imunização não está bem estabelecido, “ao contrário da gripe, que já tem uma campanha vacinal massiva antes do inverno para que as pessoas atravessem o período de frio com o ápice da imunidade”.
De outro, muita gente, de fato, ainda não se vacinou – o que explica o altíssimo volume de óbitos nos EUA: “Ainda não temos uma cultura de doses de reforço, de vacinação anual tão bem assimilada.” Teixeira entende que o contexto hoje é melhor, se comparado com meados de 2022, mas ainda é alarmante para a perspectiva do presente, principalmente porque há como evitar que os casos se agravem.
“A desinformação colabora com esse número. Agora há um remédio de fácil acesso, inclusive gratuito em dispositivos públicos de saúde, e que não tem sido prescrito corretamente pelos profissionais médicos. Pior, sequer é conhecido pela maioria da população.” Ele se refere ao Paxlovid, em comprimidos, produzido pela americana Pfizer e aprovado comercialmente pela Anvisa em 2022.
Controle do vírus é processo de longo prazo
A covid não tem sido mais uma crise de mutações do vírus: pelo contrário, a variante ômicron – identificada na África do Sul no fim de 2021 e que se espalhou rapidamente pelo Brasil – é a única em circulação pelo país neste momento.
“Ela consegue escapar da imunidade de anticorpos a ponto de seguir sendo transmitida meses depois de um surto. Isso vai gerando novos casos e, assim, mutações de escape. Por um lado, o vírus chegou ao seu patamar mais transmissível possível; por outro, ele só escapa para contaminar, não para criar casos graves”, explica Iamarino.
Hoje, de cada 100 mil brasileiros, 60 contraem a doença. A taxa de mortalidade, porém, que já foi de 201 a cada 100 mil em 2021, antes da ômicron, caiu significativamente em 2024, sendo agora de 0,37.
Ralcyon Teixeira concorda que a tendência é o vírus ir sendo controlado lentamente, num processo de prazo longo: “Ele vai ficar circulando por muito tempo, com períodos de altas e baixas, como nas gripes comuns. As variantes já são menos agressivas.” O Carnaval deveria ser um momento de elevação de casos: “Os primeiros boletins públicos já indicaram uma alta na curva de contaminação desde o fim de janeiro, no chamado ‘pré-Carnaval’.”
Mas algumas semanas de 2024 já foram bastante críticas: em meados de março cerca de 890 indivíduos morreram numa única semana. Em maio, houve outros 404 óbitos em seis dias. Nos últimos dois meses do ano, a média de mortalidade era de 206 registros semanais.
Apesar de tudo, o Brasil vive uma situação menos alarmante do que outras regiões, que atravessam crises severas de contaminações em janeiro. A OMS cita países como Cingapura (92,3 mil casos confirmados só em 2024), Rússia (86 mil), Itália (74,8 mil), Malásia (58,6 mil) e Grécia (56,5 mil).
Os números globais de casos quase dobraram entre novembro e dezembro, mas voltaram a cair desde o início de 2024, um fenômeno contrário ao dos últimos dois janeiros, quando novas variantes e o movimento do verão no Hemisfério Sul elevaram as taxas de mortes e contaminações.
Em óbitos, o alerta está sobre os Estados Unidos, que registraram 6.800 ao longo de janeiro. Na Itália, esse número passou de mil. No mundo, o total das vítimas de covid em 2024 é de 11,6 mil, segundo a OMS.
Para além da falta de prescrição dos medicamentos ambulatoriais e do gargalo na testagem e registro dos casos, o Brasil enfrenta outro dilema com a covid-19: a capilaridade da vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, pouco mais de 82% da população, ou 167 milhões, tomaram as duas doses das vacinas monovalentes. Pouco mais da metade do país (53%) está totalmente coberta pelos reforços disponíveis.
O dilema da vacinação
Por um lado, a queda significativa das taxas de mortalidade se explica muito pela campanha vacinal iniciada em 2021, cujos efeitos foram se espraiando em ritmo lento nos anos seguintes. No entanto, é consenso de que há muita gente ainda fora da cobertura básica. Teixeira, do Instituto Emílio Ribas, aponta diversos fatores.
“Existem várias confusões conceituais sobre as vacinas. Uma é sobre a utilidade delas, que não é para evitar a doença, mas para torná-la menos grave. Outra é sobre a duração, ou seja, a necessidade de reforços. Tudo isso sem contar as fake news, principalmente sobre reações falsas em crianças.”
Já Átila Iamarino, que foi uma das vozes mais potentes pela vacinação durante os momentos mais críticos da pandemia, observa um fenômeno social relevante nessa explicação: “Houve uma adesão massiva à primeira dose pelas próprias circunstâncias: estavam morrendo 4 mil por dia. À medida em que as mortes foram caindo, porém, as pessoas foram deixando de tomar os reforços. A segunda já teve menos gente e, dali em diante, os números só diminuem.”
Para o microbiologista, essa é uma das consequências presentes do movimento antivacina, endossado pelo governo brasileiro à época e que espalhou diversas informações falsas sobre a imunização, que iam de reações agravantes até o uso político da vacina para implantação de chips na população.
“Um efeito particularmente grave foi sobre as crianças. Elas correm menos risco de morrer pela covid-19, mas essa campanha negacionista fez que muitas delas não se imunizassem. Se tornou um problema. Pesquisas feitas no auge da pandemia já mostravam que os não imunizados chegam a ter até dez vezes mais chances de óbito do que alguém vacinado.”
Em janeiro, o Ministério da Saúde inseriu as três doses da vacina contra o coronavírus da empresa americana Pfizer no Programa Nacional de Imunização (PNI), tornando-as obrigatória para crianças entre seis meses e quatro anos. Idosos imunossuprimidos devem tomar reforços a cada seis meses. “Como a vacinação nessa faixa etária e nessa condição clínica ainda é baixa, os óbitos vêm se mantendo. A inclusão no calendário deve ter efeitos ainda neste ano”, sugere Julio Croda, da Fiocruz.
“Não há mais nenhuma intervenção disponível hoje no Brasil em relação à que já está no SUS: a vacinação e o tratamento antiviral. Isso fez com que a covid saísse da pauta pública”, continua Croda. “É o contrário da dengue, que tem uma vacina mais inacessível e está com uma alta relevante de casos”, completa. De acordo com o Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde, o país já registrou pouco mais de 512 mil casos por dengue até o início de fevereiro – três vezes mais do que a covid no mesmo período.
De acordo com a OMS, o Brasil ainda é o segundo país do mundo com mais mortes registradas por covid-19 desde o início da pandemia (702,1 mil), atrás dos Estados Unidos, onde 1,2 milhão perderam a vida para a doença até agora. A lista prossegue com Índia (533 mil), Rússia (401 mil) e México (335 mil). Em taxa de mortalidade, o Brasil ocupa a quarta colocação, com 328 mortes a cada 100 mil habitantes. Neste ranking, o topo é ocupado pelo Peru, com 665 mortes por 100 mil.
Siga o Agenda Capital no Instagram>https://www.instagram.com/agendacapitaloficial/
Com DW